Entrevista a Bat Yé'or
 por Paul Landau
por Paul Landauin Jerusalem Post, 2 de Janeiro de 2007
Quem é Bat Yé'or?
- Nasci no Egipto, e cresci no Cairo até à idade de 20 anos. A minha mãe era francesa e o meu pai, que pertencia à uma família judaica italiana, tinha pedido a nacionalidade egípcia, após a promulgação das leis racistas por Mussolini. Após a guerra de 1948, os bens do meu pai foram confiscados, e tivemos de partir, em 1957, somente com duas malas, abandonando todos os nossos bens e renunciando à nossa nacionalidade... Quando chegámos a Inglaterra, éramos apátridas. Tinha começado a escrever no Egipto, porque sempre me senti como uma escritora, mas queimei tudo... Na Inglaterra, recomecei a escrever, e foi o que me ajudou a superar essa experiência dolorosa, examinando-a do ponto de vista histórico. Dei conta que tinha vivido a destruição de uma comunidade judaica que existia desde a época do profeta Jeremias, e que não existia nenhum livro a relatar a história e a agonia desta comunidade. Foi o que me levou a escrever o meu primeiro livro, Zionism in Islamic Lands: The Case of Egypt.
Como apareceu o tema da dhimmitude, que foi a primeira a abordar?
- Em Inglaterra, encontrei, no instituto de arqueologia, aquele que iria tornar-se o meu marido [o historiador David Littman], e iniciei as minhas investigações sobre os judeus do Oriente. O meu projecto inicial era escrever sobre a condição judeus dos países árabes. Encontrei muitos judeus que tinham sido expulsos do seu país de origem mas mantiveram a relação, apesar do afastamento. Estive entre os membros fundadores do WOJAC, a Organização Mundial dos Judeus dos Países Árabes. Todos tínhamos vivido a mesma história de perseguições, de espoliações e de expulsões. É durante as minhas investigações que descobri a condição do dhimmi [ou seja, o estatuto dos não-muçulmanos monoteístas, em terra do Islão]. Aquilo foi o objecto do meu livro, Dhimmi Peoples: Oppressed Nationed, publicado em 1980. Após a sua publicação, fui contactada por cristãos, e comecei a interessar-me pela islamização dos países cristãos, tema ao qual consagrei outro livro.
De facto, descobriu um plano inexplorado da história mundial.
- Existiam boas monografias que abordavam o tema das conquistas islâmicas, mas sempre o ponto de vista do vencedor. Coloquei-me do ponto de vista das populações conquistadas, ou seja, dos dhimmis. Foi a razão pela qual fui atacada, porque englobava judeus e cristãos no mesmo conceito. Nessa época, nenhum historiador falava ainda de jihad. Era um termo quase tabu, porque contradizia o mito da coexistência pacífica na terra do Islão, que designei como “o mito andaluz”.
É a partir desta época que foi criticada pelos defensores de uma visão politicamente correcta da história?
- Muito inocentemente, sem mesmo ser consciente, opunha-me à visão geralmente admitida da história, a que desenvolve Fernand Braudel, no seu livro Mediterrâneo. Aquilo tomou-me quatro anos para poder publicar o Dhimmi, e o editor, que finalmente tenho encontrado, impôs-me o subtítulo, «perfil oprimido», recusando falar de judeus e cristãos...
Como descobriu o conceito de Eurabia, que entrou no vocabulário político contemporâneo?
- Na minha precedente obra, The Dhimmi: Jews & Christians Under Islam, examinava as formas históricas da dhimmitude, e os seus prolongamentos até à época contemporânea. Vi como a jihad prosseguiu até à nossa época, sob todas as formas, mas não compreendia porque a Europa se submetia à política intransigente e os diktats da Liga árabe, em especial no que respeita ao conflito com Israel. Encontrei, por acaso, uma revista, publicada em 1975 pelo Comité de coordenação das associações de amizade euro-árabe, intitulada Eurabia. Foi nesse momento que compreendi que existia uma política euro-árabe. Empreendi investigações sobre este assunto, que foram objecto de um artigo, e depois do meu livro, Eurabia, publicado primeiro em inglês, seguidamente em francês. Neste momento, estão em curso as traduções, italiana, hebraica, alemã e eslovena.
Como foi acolhido este livro?
- Nos Estados Unidos, onde apareceu em 2005, foi bem acolhido, pelas pessoas interessadas no tema. Trazia explicações sobre o anti-americanismo, bastante virulento aquando da guerra no Iraque, e nomeadamente a atitude da França e a sua animosidade para com os Estados Unidos. Eurabia conheceu já sete reedições nos Estados Unidos. O termo foi retomado por numerosos observadores da política internacional.
Que significa Eurábia?
- É um novo continente que está a emergir, um continente de cultura híbrida, árabe-europeia. A cultura europeia, nos seus fundamentos judaico-cristãos, está a enfraquecer-se progressivamente e a desaparecer para ser substituída por uma nova simbiose, islâmico-cristã. Reconheci este processo, que já tinha estudado no meu livro sobre as cristandades do Oriente [The Decline of Eastern Christianity Under Islam: From Jihad to Dhimmitude: Seventh-Twentieth Century], onde analisava as causas históricas do declínio das civilizações cristãs sob o Islão.
Como passou do ponto de vista da história ao da perspectiva geopolítica?
- O que me interessou foi tentar descobrir os índices que desenham uma evolução futura, as correntes subterrâneas da história que efectuam os desenvolvimentos previsíveis, mas frequentemente imperceptíveis. Aquando da conferência organizada em Jerusalém, intitulada «O Islão na Europa, Islão europeu ou Eurábia?», a maior parte dos conferencistas convidados negou a existência da Eurábia. No entanto os sinais são flagrantes, tanto no plano demográfico, como político e cultural. Os milhões de manifestantes que apoiavam Saddam Hussein ou Arafat nas ruas das capitais europeias, as campanhas anti-Bush e Sharon, o desenvolvimento do anti-semitismo e da intolerância, o terrorismo, a insegurança permanente...
A tese do seu livro é que estas evoluções traduzem uma vontade política deliberada, por parte da Europa?
- Esta política, designada sob o vocábulo enganoso de “diálogo euro-árabe”, foi decidida ao nível da Comunidade, seguidamente da União Europeia. É uma política conjunta, coordenada entre as instituições europeias e a Liga árabe. A União Europeia tornou-se um órgão político supranacional que toma decisões sem o conhecimento das populações. Todos os que quiseram opor-se à política de Eurábia, como Blair ou Aznar, têm perdido as eleições.
Voltou ao Egipto?
- Não, nunca. Mas não guardei nenhuma animosidade para com os egípcios. Existe nesse povo uma grande elevação. As políticas impostas não chegam para alterar a natureza humana.


























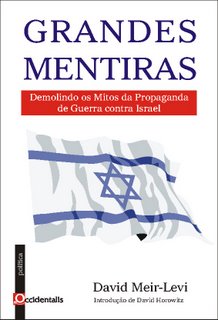


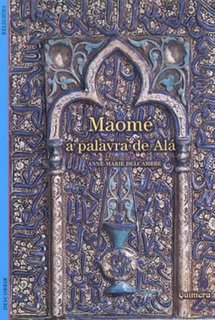
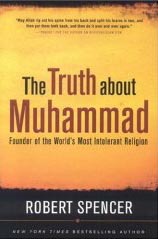
6 Comments:
Penso que essa mulher é maluca, e tudo o que dela li para aí aponta. Tão fanática e estúpida, fechada num casulo autista de ideias por ela criado como qualquer bom fundamentalista islâmico (ou neonazi) que se preze. A amargura da expulsão da sua família do Egipto - em retaliação à criação de Israel e da expulsão e perseguição feita aos palestinianos - nunca sarou, nem ela se deu ao trabalho de visitar o lugar onde nasceu. A expulsão dos judeus de terras árabes não foi particularmente dignificante, é certo, mas nada que se compare ao que os nazis e seus colaboradores europeus teriam feito ao pai dela e a ela própria em outras circunstâncias. O motivo da raiva árabe é só um, e continuará a ser este, o que o Daniel Oliveira descreve no seu blogue, "Arrastão":
«Uma viagem à Palestina
Daniel Oliveira
Blogue "O Arrastão"
Um post enorme, para ser lido por quem se interessa pelo que se passa na Palestina. Fui numa visita de dirigentes partidários europeus (de esquerda e de direita) que defendem o direito dos palestinianos a um país viável. Não tive muito tempo de rua, porque a visita foi dominada por reuniões e encontros com activistas. Ao contrário dos restantes participantes da delegação – não fui o único português –, foi a minha primeira ida a Israel e à Palestina. Um privilégio começar assim, em conversas com activistas pela paz dos dois lados. Mas terei de voltar brevemente para me perder nas ruas e para ouvir as pessoas comuns. Aqui vai o que aprendi nestes dias que me marcaram. Algumas citações são reproduzidas de memória. E as fotos não são grande coisa por falta de talento do fotógrafo.
O porteiro
Na chegada ao aeroporto de Telavive esperavam-me três horas de interrogatório. Os carimbos da Síria e do Iémen no passaporte, assim como o material de filmagem, não foram do agrado do controlo de fronteiras. Não houve nada que não me fosse perguntado. Nada de especial. Ao meu lado, um brasileiro de origem palestiniana preparava-se para o costume, sempre que visita os seus tios na Cisjordânia. Seis horas de perguntas, bem mais difíceis de engolir do que aquelas que nos são feitas. Diz que o fundamental é não perder a calma para não lhes dar qualquer razão para impedir a entrada. No seu caso, não quer ir a Israel. Quer ir ao país da sua família. Mas Israel é o porteiro e nos territórios palestinianos só entra quem ele quer.
Na Cisjordânia reuni com empresários, cooperantes e estrangeiros casados com palestinianas que dirigem uma campanha internacional pelo direito de entrada no território. Israel só dá vistos de três meses. Dantes, davam um salto à Jordânia e o visto era renovado. Acabou. Se saem, o mais provável e não voltarem a entrar. Resultado: há vários projectos internacionais, incluindo os que são pagos pela União Europeia, que ficam a meio porque perdem os seus principais quadros. Há famílias separadas, em que o marido fica retido no estrangeiro. Israel aplica aos territórios palestinianos as suas leis de imigração, sufocando assim a economia e a reconstrução.
Um americano-palestiniano desabafa: «não queremos ser israelitas, queremos só poder viver na Palestina e saber com o que contamos. A maioria acaba por ir embora, para poder sair de uma forma organizada».
Os buracos do queijo suíço
No primeiro dia logo de manhã vamos a Ramala. Vamos pelas estradas reservadas a israelitas, para que possam ir depressa dos seus confortáveis colonatos para Jerusalém. Não se percebe bem de que lado se está, quando se entra na Cisjordânia. Se em território ocupado se em território sobre autoridade palestiniana. Até porque as estradas reservadas a israelitas rasgam muitas vezes os territórios palestinianos. De um lado muro, do outro cerca. Saídos dessas estradas é fácil notar a diferença. Estradas esburacadas. Apenas uma, daquelas em que os palestinianos estão autorizados a circular, liga o sul ao norte da Cisjordânia. Com atenção, vê-se a diferença de cada lado. De um, os colonatos, do outro, casas amontoadas e lixo. Os colonatos, mesmo depois dos acordos de Oslo, continuam a crescer. E as terras, propriedade de palestinianos, continuam a ser confiscadas. Por vezes, entre estradas e muros há espaços vazios, para que os carros de patrulha possam vir a circular. Espaços que deveriam ser da Palestina.
Na Cisjordânia raramente os muros separam território israelita de território palestiniano. Separam território palestiniano de território palestiniano. Separam as cidades das suas zonas agrícolas e industriais. Separam cidades de cidades. Cortam ligações de estrada. São um labirinto que obriga a demorar duas horas para fazer uma viagem que durava dez minutos. E chegam mesmo a separar dois lados da mesma avenida, deixando trabalho de um lado e casa do outro. Berlim.
Em tudo os territórios palestinianos estão dependentes dos humores de Israel. Para receber os impostos que os seus cidadãos pagaram e que Israel rouba há quase um ano, para receber a energia e a água que Israel lhes fornece mediante pagamento especial, apesar de ficarem com os seus impostos. Para entrarem, para saírem, para irem à escola na cidade palestiniana mais próxima, para comercializarem os seus produtos. A Cisjordânia é um labirinto onde a vida é transformada num Inferno, de forma metódica e sádica. Pirralhos de 18 e 19 anos, que servem o exército israelita, humilham velhos e homens feitos. E eles aguentam.
A melhor definição daquele território foi-me dada por uma israelita de esquerda: a Cisjordânia é um queijo suíço. E os palestinianos ficaram com os buracos do queijo.
Entrando dentro da Cisjordânia a presença israelita vai-se sentido menos. Apenas fica a miséria, em contraste com o conforto do lado de lá e dos colonatos que salpicam o território. Chegados a Ramala, estamos numa cidade árabe mais ou menos normal. A confusão do costume, o trânsito caótico.
Vinte por cento da já pobre agricultura da Cisjordânia perdeu-se com o muro. Os tractores não chegam às terras. Os trabalhadores também não. Nem os seus proprietários. Quando chega a altura das colheitas, fecham-se os “checkpoints”. E mesmo quando conseguem lá chegar, os camponeses palestinianos têm, muitas vezes, de se haver com os colonos, que os atacam. Nem mesmo quando contam com a ajuda de pacifistas israelitas na apanha da azeitona estão a salvo. Os colonos querem que eles desistam das suas terras para se apoderarem delas. E contam, como sempre, com a preciosa ajuda do Estado. Como alguém me disse, há uma deportação silenciosa dos palestinianos.
Para além de separarem as terras das casas, os muros impedem a entrada de maquinaria, fertilizantes e de trabalhadores, assim como o escoamento de produtos. Numa pequena cidade a norte do rio Jordão, bastante fértil e propícia à actividade agrícola, coisa rara nos territórios que sobraram para os palestinianos, está proibida a entrada e saída de pessoas. Onde há mão-de-obra não há trabalho. Onde há trabalho não há mão-de-obra.
Este ano teria sido um excelente ano para a azeitona. Mas ela fica na beira da estrada, à espera de poder ser transportada. Como se não bastasse, os colonos israelitas, quando não abatem as oliveiras, roubam a colheita. Nem a presença de ex-soldados israelitas, agora pacifistas, impede a rapina, a intimidação e as agressões aos agricultores palestinianos. Numa das noites conheci alguns dos que ajudam estes agricultores. Uma organização de refusniks israelitas (gente que se recusa a actuar militarmente nos territórios ocupados) e ex-prisioneiros palestinianos, os “Combatentes pela Paz”. Um movimento simbólico que hoje recusa o recurso à violência.
A morte da agricultura palestiniana não tem efeitos apenas económicos. É a morte de um modo de vida e de uma sociedade que sempre viveu, acima de tudo, da terra. Mais gente a engrossar o enorme exército de desempregados sem nenhuma perspectiva de vida.
Um povo de prisioneiros
Tive uma reunião em Ramala com o movimento pela libertação de Marwan Barghouti. Não confundir com Mustafa Barghouti, um laico de esquerda que teve um excelente resultado nas últimas presidenciais, que trabalhou de perto com Edward Said, na Iniciativa Nacional da Palestina e que se opõe a militarização da Intifada. Também reunimos com ele e falámos dos esforços de criação de um governo de unidade nacional, em que ele tem tido um importante papel como mediador. Tentarei falar um pouco mais deste homem, um dia destes. É, de longe, aquele que me parece ser o político mais lúcido da Palestina. Voltemos a Marwan. O grupo de pessoas que dirige a campanha para a sua libertação é um excelente retrato da história da Palestina. Na mesa, oito ou nove activistas. Estiveram todos presos em Israel. Quatro, cinco, seis, dez anos. Muitos foram torturados. Mais de setecentos mil palestinianos passaram, nos últimos quarenta anos, por prisões israelitas. Não há um palestiniano que não tenha tido alguém preso na família.
A conquista de Jerusalém
Sobre Jerusalém, devo falar com cautela. Fiquei a conhecer pouco. E sei que Jerusalém não retrata com fidelidade Israel. Israel é ainda maioritariamente laico e, do ponto de vista religioso, moderado – o mesmo não se pode dizer da relação que mantém com o povo vizinho. Aliás, a maioria dos chamados ortodoxos não é especialmente radical em relação aos palestinianos. O seu ódio vira-se sobretudo contra os outros israelitas. Mas Jerusalém é um bom retrato (exagerado) do que está a acontecer à sociedade israelita (e à árabe, e à americana...). Os ortodoxos tomaram conta da cidade. Reproduzem-se a um ritmo alucinante, compram ruas inteiras, fecham ruas ao sábado, apedrejam quem se atreve a conduzir naquele dia e, paulatinamente, vão comprando todas as casas numa guerra de posições. Cristãos, já praticamente não existem. Estão dez mil registados, mas imagina-se que este número esteja largamente inflacionado. Os judeus laicos acabam por fugir deste vizinho e vão para Telavive, Haifa e outras cidades mais moderadas.
Andando pela rua, quando se vê alguém com roupa vagamente ocidental, em principio é árabe. É difícil distinguir as milhares de seitas, mas alguns ortodoxos limitam-se a receber dinheiro do Estado para não fazer nada a não ser ler os textos sagrados. As mulheres de outros são obrigadas a rapar o cabelo depois de casar e usam peruca no seu lugar. Recentemente, um representante dos ortodoxos na municipalidade quis proibir homens e mulheres de viajarem no mesmo lugares dos transportes públicos. Se alguém tomasse esta gente por legítimos representantes dos judeus, toda a gente se indignaria. Com justiça. Só que quando se toma a minoria fanática islâmica pela voz dos muçulmanos, toda a gente acha normal.
De resto, Jerusalém é uma cidade em que as duas cidades, árabe e judia, não se misturam. E em que lentamente os palestinianos vão sendo expulsos através de demolições e expropriações de terra, entregues depois a judeus recém-chegados.
Mas há esperança para a paz. Recentemente Jerusalém assistiu a uma improvável unidade entre religiosos judeus, muçulmanos e cristão. A tentativa de organizar uma parada gay (que na moderna em Telavive é um sucesso) esbarrou com os protestos unidos de todos os fanáticos. Conseguisse a vontade de paz no território unir tanto como o preconceito…
Exilados no país de Liberman
De caminho para Haifa, seguimos, do lado israelita, os muros que cercam as cidades do norte da Cisjordânia. Paramos em Kalkilia, uma cidade cercada por muro a toda a sua volta, asfixiada e isolada de tudo. Numa parte do muro foram plantadas árvores que o tapam do lado israelita. A ideia foi de um grupo de consultores que achavam que o muro dava má imagem a Israel. Olhos não vêem, coração não sente.
Chegados a Haifa, tivemos um encontro interessante com uma associação de palestinianos com cidadania israelita (Mossawa Center). Uso esta expressão porque a usada pelo Estado de Israel (árabes israelitas) não faz qualquer sentido. Há centenas de milhares de árabes judeus e os palestinianos com cidadania israelita consideram-se, mais do que árabes ou israelitas, palestinianos. Principal tema: os apoios aos palestinianos vitimas dos roquets do Hezbollah.
Apesar de quase metade dos que perderam os seus bens serem palestinianos israelitas, estes receberam menos de um terço dos apoios. Os comerciantes palestinianos israelitas esperam ainda pelo dinheiro do Estado, para o qual pagam os mesmos impostos que os outros. Já foi dado aos seus colegas judeus. Mesmo durante a guerra, sofreram de forma diferente. Nos chamados bairros árabes há muito menos abrigos públicos do que no resto da cidade.
Já agora, vale a pena ir ver os números oficiais de Israel e tentar não rir. De 3.970 roquets, apenas 880 terão caído em zonas urbanas. No entanto, Israel diz que foram destruídas 12 mil habitações. Ou os roquets do Hezbollah são iguais à bala que matou Kennedy ou as armas do Partido de Deus têm poderes sobrenaturais. Nos números oficiais, Israel conseguiu ter mais “vitimas” do que os libaneses. Porquê? Porque Israel costuma contar com os que ficam com marcas psicológicas. O que, naquela religião, só se pode tratar de humor negro.
Outro protesto dos palestinianos de cidadania israelita: se casarem com palestinianos que vivam nos territórios da autoridade, não os podem trazer para Israel. No entanto, se um judeu israelita que viva nos colonatos casar com qualquer israelita, leva-o para o colonato em território palestiniano sem qualquer problema. E há por fim a violência policial, que matou, nos últimos dois anos, 33 palestinianos israelitas que participavam em manifestações pela paz.
A parte mais interessante da conversa foi quando alguém perguntou à principal dirigente da associação como se sentia durante a guerra. Se não havia um conflito de identidades. Disse que sim. Que por um lado estava em pânico pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua vida. Por outro, sentia algum alento por haver quem resistisse. «Como feminista e activista pela paz, não gosto desta pessoa que se revelou em mim, nesses dias. Sentia-me esquizofrénica.» Mas uma outra activista, também feminista, mas judia, interrompeu a conversa. «Não acho que essa questão da identidade faça sentido. Eu sou israelita judia e sinto-me exilada no meu próprio país. Não gosto do que este país faz. Nasci aqui, sou daqui, gosto de aqui viver, mas não suporto o que este Estado faz. Não sinto essa identidade de que fala.»
Depois veio, como em todas as conversas, Liberman. Um fascista que propõe que se cerquem as cidades de palestinianos israelitas, lhes tirem a nacionalidade e os entreguem à mesma sorte que os restantes palestinianos. E que se conquiste mais territórios, impondo definitivamente os bantustões palestinianos. Liberman também defendeu a execução, por traição, dos deputados árabes que manifestem simpatia pelo Hezbollah. E, já depois de partirmos, defendeu que Israel faça em Gaza o mesmo que a Rússia fez na Chechénia. Agora é vice-primeiro ministro com a aprovação de todos os ministros dos trabalhistas, menos o da cultura que, mostrando algum brio, se demitiu. O mesmo Javier Solana que se recusa a reunir com o governo eleito da Palestina, porque são (e de facto são) radicais islâmicos, reuniu-se com Liberman, ainda antes de ele se sentar nas reuniões do Conselho de Ministros.
Entre a esquerda israelita o desalento é absoluto. Peretz foi uma tremenda desilusão e a radicalização dos israelitas parece inevitável. Alguns acham que Liberman diz apenas alto o que a maioria dos israelitas pensa baixinho. Rabin é uma memória distante. Uma ucraniana israelita, activista de esquerda, conta-me a sua história. Na Ucrânia, depois do fim do comunismo, era líder da juventude sionista. Tratava-se, diz, de defender uma minoria sempre perseguida no seu país. Foi viver para Israel e deixou de ser sionista. «Aqui luto pelos direitos de outra minoria, os palestinianos. Faço o que gostaria que os ucranianos tivessem feito por mim». É feminista e eu pergunto-lhe como lida com a ausência de direitos das mulheres entre os muçulmanos. «Trabalho com feministas muçulmanas, é isso que faço e é isso que devo fazer. Os direitos das mulheres não devemser impostos de fora. Devo trabalhar com as mulheres muçulmanas que lutam pelos seus direitos, assim como eu luto pelos meus.»
À entrada do gueto
Gaza é uma experiência para a vida. Em Erez, entra-se por um enorme túnel, no meio da muralha de cimento. Completamente vazio. Só jornalistas e muito poucos palestinianos com passe VIP conseguem, nestes meses, entrar e sair. E, claro, os tanques e os bulldozers israelitas que, volta não volta, lá vão fazer o gostinho ao dedo. De resto, ninguém entra e ninguém sai. Mas o muro que cerca Gaza e que a isola do Mundo é apenas a parte visível do gueto.
Quando, duas horas depois de chegarmos (os miúdos de 18 e 19 anos que tomam conta da entrada do gueto resolveram embirrar com dois membros da delegação, ao calhas, apenas porque foram os dois últimos a entrar), atravessamos finalmente o enorme túnel. Esperamos que nos abram a porta automática. Uns metros depois, o túnel, em muito pior estado, já é palestiniano. Polícias armados e dois membros do Parlamento Palestiniano esperam por nós. Logo à entrada, uma fábrica está destruída. Foi bombardeada há quatro dias e depois arrasada por bulldozers blindados. A comitiva segue em grande velocidade. À frente, uma carrinha de caixa aberta leva vários polícias de metralhadora em punho. No fim, vai outra. Uma chinfrineira de sirenes. Um espectáculo de fanfarronice, bem ao gosto árabe. Chegamos à sede do Conselho Legislativo. Já tínhamos estado na secção da Cisjordânia.
Gaza é uma espécie de bairro social interminável, com um milhão e meio de habitantes. Os campos de refugiados com ruas estreitas, com ruas abertas à força por demolições israelitas que assim preparam a passagem dos tanques deixando um rasto de destruição por onde passam, com praças planeadas (se é que alguma coisa aqui é planeada) e com praças de entulho abertas pelos bombardeamentos… Já estive em várias cidades árabes. Esta é mais soturna do que qualquer uma que eu tenha visto. A miséria é absoluta, o ambiente pesado e triste. A sensação de claustrofobia e de clausura sente-se desde o primeiro segundo.
O Parlamento está virtualmente morto. Porque os deputados de Gaza e da Cisjordânia estão incontactáveis e porque mais de quarenta deputados estão nas prisões israelitas. Quem lhe disse que queria uma Palestina democrática mentiu-lhe. Mas a isso irei depois. Não fico na reunião. Será uma repetição do que vi em Ramala e a delegação tem de se dividir. Vou para o Hospital Central de Gaza (Al-Shifa). A delegação, sempre chefiada por uma deputada do Parlamento Europeu, independente italiana, passa nesta parte a ser chefiada pelo deputado do Partido Conservador inglês, eleito por Londres. Ex-ministro da Saúde e um thatcherista ferrenho e um convicto apoiante dos direitos dos palestinianos..
No hospital, como há cem anos
No principal hospital de Gaza falta tudo mas reina, apesar de tudo, uma surpreendente organização. Os médicos começam por nos mostrar fotografias de vítimas dos bombardeamentos. Garantem que foram utilizadas armas químicas. O inglês diz que o tipo de ferimentos assim o indica. Eu, absolutamente leigo nestas matérias, limito-me a registar a informação. No hospital faltam os medicamentos. Quando se pode comprar, não há dinheiro, quando há dinheiro os israelitas não deixam passar na fronteira. E falta material de todo o tipo. O director do Hospital de Al-Shifa queixa-se que voltou a operar como se fazia há cem anos atrás. Com os cortes permanentes de electricidade parte das máquinas de hemodiálise está irremediavelmente danificada. Falta tudo quando tudo é mais necessário. Não há vacinas e os médicos chamam à atenção para os riscos para a saúde pública não apenas em Gaza mas em toda a região. A falta de electricidade afecta o bombeamento de água e a falta de água é um enorme risco para a saúde. E há os bombardeamentos permanentes. Um hospital que costuma ter duas ou três amputações por semana teve 51 nos últimos dois meses.
Como transformar um povo num pedinte
A reunião seguinte é das mais interessantes em que estive. Um grupo de empresários, gestores, escritores e jornalistas – uma espécie de comité das "forças vivas" de Gaza – quer-nos explicar o drama económico do território. Com o encerramento das fronteiras, a maquinaria para fábricas não entra e não há investimento possível. Quando chegam ao mercado os custos de transporte representam o dobro dos custos de produção. Depois de verificados ao milímetro, e esperarem durante dias no porto israelita de Ashdod (os palestinianos têm de pagar a espera), os produtos só podem ser transportados por empresas israelitas certificadas. Elas aproveitam o monopólio e inflacionam os preços. Depois, em princípio, ficam semanas ou meses à espera na fronteira, ao sabor dos humores do oficial de serviço. Se forem perecíveis, já nem vale a pena saírem de lá. Os produtos de consumo de produção israelita entram, claro. Há que fazer negócio. Os preços são muito mais altos do que em Israel e os salários infinitamente mais baixos. O pouco que os palestinianos ainda conseguem produzir para exportação só sai depois de apodrecer. O funcionamento do porto em Gaza seria uma grande ajuda para os palestinianos. Mas os israelitas não permitem que ele reabra. Entre as duas partes dos territórios (Gaza e Cisjordânia) praticamente não existem movimentos comerciais possíveis.
Como ninguém entra ou sai, o investimento externo é uma miragem. Ninguém quer empatar dinheiro com tanto risco se nem pode ter contacto com o seu negócio. Os empresários de Gaza não podem ir a reuniões no estrangeiro, tratar de negócios. Estão presos. Um gestor explica-me: «Israel retirou mas continuamos ocupados, muito pior do que antes, estamos aqui presos e condenados à miséria. Somos pessoas educadas, preparadas para os nossos negócios. Não precisamos de caridade. Apenas queremos que nos deixem trabalhar.»
Há sete meses que os funcionários públicos de Gaza e da Cisjordânia não recebem um tostão. É Israel que colecta os impostos dos palestinianos. Desde que o Hamas ganhou as eleições que fica com eles. São dois terços do Orçamento da Autoridade Palestiniana que Israel rouba e usa para seu proveito. Só os médicos recebem: 300 dólares por mês. O resto, de professores a polícias, nada. Num território com mais de 3500 pessoas por quilómetro quadrado, o poder está na rua. Não há dinheiro mas não faltam armas. Estão três mil para entrar. E os EUA fazem pressão junto de Israel para que autorize. Quer armar a Fatah para uma provável guerra civil que se avizinha. Assim como quer que entrem mais homens para engrossar a guarda pretoriana do Presidente Abbas.
A Europa (que paga tudo, das infra-estruturas que os israelitas se divertem a desfazer às ajudas ao governo) descobriu o ovo do Colombo. Vai criar um regime extraordinário em que o dinheiro é entregue directamente aos funcionários, através de bancos, sem passar pelo governo. Outra parte do dinheiro irá directamente para pagar a electricidade e água que Israel fornece à Palestina. Fica-lhes com os impostos e cobra-lhes pela energia. A ideia europeia é de tal forma engenhosa que todos desconfiam que o regime transitório será definitivo. Mas ele destrói qualquer ideia de Estado e de democracia. Se a polícia não recebe do Estado porque raio há de obedecer ao Estado. É a destruição final da Nação Palestiniana. Mas nem com este esquema Israel entregará o dinheiro que roubou aos palestinianos. E a Europa ainda lhe pagará o fornecimento de electricidade e água aos territórios palestinianos.
Sem economia privada, sem dinheiro público, a Palestina é, como lamentou um empresário que viveu vinte anos em Londres e é um fã do Partido Conservador, «um país de pedintes».
A traição e a sede de poder
A estratégia europeia para com o Hamas (já nem falo do governo israelita, que apenas sonha com a auto-destruição da Palestina) foi absolutamente idiota. Haniya era dos poucos homens que poderia fazer com o grupo radical o que os islamistas turcos fizeram com o seu: chegado ao poder, converte-lo em qualquer coisa de minimamente aceitável. Não era fácil, não era seguro, mas era melhor do que temos hoje. A vitória do Hamas não correspondeu apenas ou especialmente a uma radicalização dos palestinianos, mas a um merecido castigo à corrupção generalizada que se instalou na Fatah. Em vez disso, a Europa assistiu impávida à destruição da cúpula do Hamas, quase toda na prisão, e à criação de um vazio de poder.
A Fatah sentiu o cheiro do poder e a burguesia nacional, ligada àquele partido, pressiona para uma solução que possa abrir as fronteiras dos negócios. Um movimento grevista da função pública dominado pela Fatah, na Cisjordânia, pressiona o poder político falido e ataca violentamente as sedes do governo. No Hamas, falta experiência política aos que não foram presos e a pressão dos mais radicais deixa pouco espaço de manobra. A guerra civil ou qualquer coisa de semelhante, que os EUA, irresponsáveis, parecem querer instigar, está iminente. Os partidos laicos e muitos palestinianos sensatos pressionam para um governo de unidade nacional. Muitos empresários parecem querer um governo de tecnocratas, mas que nunca teria autoridade para manter a ordem. O interesse dos palestinianos deveria obrigar Fatah e Hamas a entenderem-se. Mas a defesa dos interesses dos palestinianos nunca foi o forte destes dois partidos.
A questão do reconhecimento de Israel pelo Hamas é obviamente uma rábula sem sentido. Todos sabem que não mudaria nada. Israel está-se absolutamente nas tintas para se é reconhecido ou não. E, já agora, também nunca reconheceu uma Palestina independente. Não passa de retórica. Israel quer apenas que os palestinianos desistam, fujam ou se matem uns aos outros. Já estiveram mais longe. E o governo de unidade teria sido uma excelente resposta, depois da derrota israelita no Líbano. A sede de poder interno ditou outras prioridades. Os negócios da Fatah e a tentativa de sobrevivência do Hamas falam mais alto.
À noite, reunimos com o gabinete de Abbas e no fim com o próprio presidente. Escuso-me a dizer com que impressão fiquei. Penso que o que escrevi até agora a deixa suficientemente clara. O jogo de sombras em que vivemos, na divisão simplista entre moderados e radicais, não deixa perceber bem o papel de cada um na Palestina. A paz não será feita por quem trata dos seus negócios. A paz será feita por quem consiga representar aquele povo. De Arafat, tinha a pior das opiniões. Era corrupto, penso que ninguém o discute. Mas ao menos representava qualquer coisa que se assemelhasse à identidade daquele povo. Abbas nem isso tenta. E o Hamas parece não conseguir dar o salto do fundamentalismo religioso para um movimento político nacional. A militarização da Intifada matou a própria Intifada. Já só resta a violência e os negócios. Como os políticos mais radicais de Israel querem que seja.
À noite, peço para sair para a rua para filmar qualquer coisa de Gaza. Os palestinianos estão nervosos. Naquele mesmo dia um jornalista espanhol foi raptado. Dizem primeiro que não. Acabamos por ir com três polícias armados de metralhadora. Um deles conta-nos que perdeu uma das suas filhas, há três semanas. Um helicóptero israelita bombardeou o seu prédio. A mãe da sua mulher também morreu. Pergunto a outro o que fariam aos raptores em caso de tentativa de rapto. «Matávamo-los». Isso não é bom, digo. «Fazem mal à Palestina», responde.
Saímos de Gaza. No caminho para o muro que cerca o gueto, está tudo às escuras. Chegados de novo ao túnel, temos apenas uma pequena amostra do que viviam os palestinianos quando ainda podiam de lá sair. Esperavam horas no enorme túnel, obedecendo a gritos transmitidos por altifalantes, em hebreu. Depois, entravam, como nós entramos, numa caixa que, usando um dispositivo de infra-vermelhos, os revistava, como nos revista a nós. Passadas horas de espera, tinham de responder às perguntas de miúdos de 18 e 19 anos, lançadas como insultos. Fossem para Israel ou para qualquer outra parte do Mundo. Do gueto só sai ou entra quem Israel entende. Agora não sai ninguém.
A descrição do ambiente que se vive m Gaza é difícil de se fazer. Só me vem uma imagem à cabeça: Varsóvia, 1940. No túnel, ouvimos os helicópteros israelitas. Mais um bombardeamento que começa no dia seguinte.
http://arrastao.weblog.com.pt
O exemplo do Dhimmi Oliveira não podia ser melhor achado para ilustrar este postal. Obrigado!
Porquê você não escreve sobre a situação dos bahá'ís no Irão e no Egipto?
Cada uma a sua maneira com um ponto em comum: nos dois países a Religião Bahá'í é considerada ilegal e os seus seguidores não tem direito as mínimas condições legal da cidadania; no Irão constituem a maior minoria religiosa do país e estão a ser perseguidos e sob ameaça constante de que a situação piora e cria-se um novo holocausto e no Egipto embora podem não ser a maior minoria mas não podem tirar uma simples carta de identificação porquê não é permitido escrever a sua religião nela.
Vê as coisas estão difíceis para os bahá'ís nos países islâmicos e a sua única preocupação é se os muçulmanos invadem a Europa???!!!!
Vou colocar alguns links para poder investigar melhor.
https://www.gozaar.org/index.php
http://bahai.org/persecution/iran/
http://bahai.org/persecution
Será que as pessoas aindam não se deram a conta do prigo?
Sobre a situação dos bahá'i no Egipto e noutros lugares o blogue Povo e Bahá (http://povodebaha.blogspot.com/) cumpre muito bem a função informativa.
O oliveira e realmente um grande pateta ipocrita.
E acha "o blogue Povo e Bahá (http://povodebaha.blogspot.com/)" basta??? E que é a voz do povo e ...
Grande denunciador que tu és?
Aliás aqui em Portugal ninguem costuma se mexer muito nas causas humanitárias, não é mesmo?
Enviar um comentário
<< Home